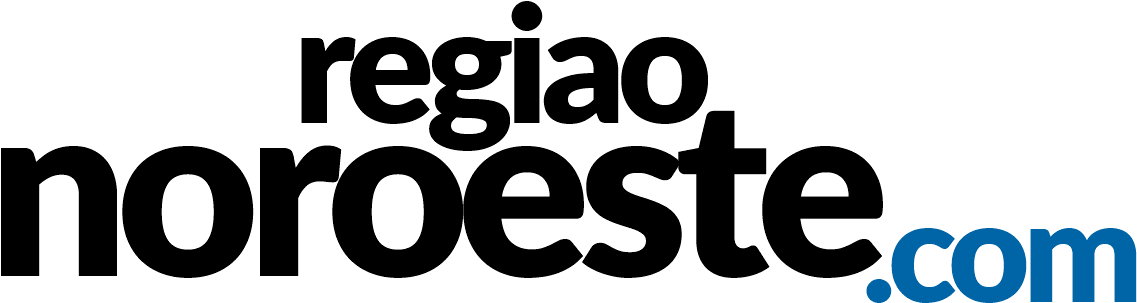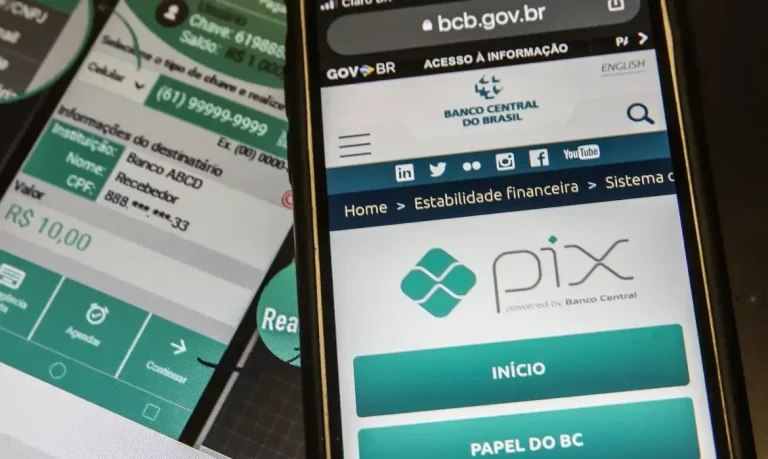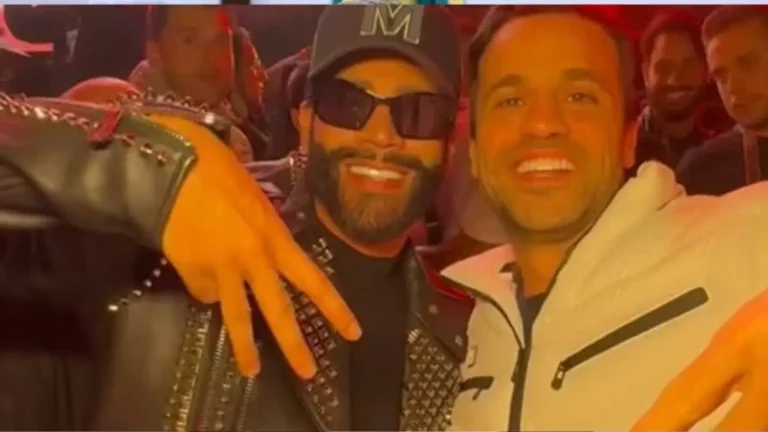Os rumos da crise política brasileira estão nas mãos de nove homens e duas mulheres, ou como define o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Carlos Ayres Britto, “onze pares de olhos, onze experiências, onze altíssimas responsabilidades”. “Este momento é de confiança vigilante no Judiciário. Esse Poder tem, pela Constituição, a competência de falar por último quando as controvérsias lhe chegam”, resume Ayres Britto.


A principal controvérsia do momento é o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Após dois meses de paralisado no STF, que foi demandado a definir o rito que deve ser seguido para o impedimento, o impeachment avança a passos largos na Câmara. Segue tão rápido num cenário com um Governo cada vez mais isolado e assistindo a uma debandada dos aliados que o Palácio do Planalto pretende mandá-lo de volta para o Supremo, sob a alegação de que não há base legal para questionar o mandato da presidenta. “O pacto entre nós é a Constituição de 1988. Ela assegura que não se pode tirar um presidente da República legalmente eleito a não ser que haja prova de crime de responsabilidade. Não tendo, é golpe contra a democracia”, disse a presidenta em entrevista ao EL PAÍS e a outros meios estrangeiros. Outra questão importante que acabou judicializada é a posse do ex-presidente Lula na chefia da Casa Civil. Como os onze ministros responsáveis decidirão sobre esses assuntos é a pergunta que o país inteiro se faz no momento.
De todos os ministros que compõem a Corte, Teori Zavascki é o mais relevante para a Lava Jato. O relator dos processos da maior operação da história do país tem sob sua tutela o destino de mais de 50 autoridades. E a lista pode aumentar nos próximos dias, com a presença de Dilma, do vice-presidente Michel Temer e do senador Aécio Neves (PSDB), todos mencionados na delação premiada de Delcídio do Amaral.

Indicado para o STF durante o Governo Dilma, Zavascki tem demonstrado discrição ao longo do processo, inclusive quando solicitou os processos do caso Lula na Lava Jato ao juiz Sérgio Moro. A investigação sobre o ex-presidente Lula acirrou os ânimos dos apoiadores do PT e do Governo, principalmente depois que Lula foi alvo de uma condução coercitiva para depor e que o sigilo de telefonemas do ex-presidente foi quebrado por Moro. As suspeitas públicas que pairavam sobre esses procedimentos foram balanceadas pela intervenção de Zavascki. O ministro criticou duramente Moro pela divulgação, mas encaminhou a decisão final para o plenário com 11 nomes do STF, a quem caberá definir se detentores de foro gravados pelos grampos, como a presidenta Dilma, serão investigados.

“Precisamos de mais plenário e menos liminares, mais decisões colegiadas e menos decisões individualizadas”, diz o professor da FGV Direito Rio Joaquim Falcão
A decisão de Zavascki alterou parte de uma liminar concedida dias antes pelo ministro Gilmar Mendes, de quem não se pode falar exatamente em discrição. Reconhecido como crítico ferrenho dos governos petistas, foi Mendes que suspendeu a posse de Lula na Casa Civil, sob a suspeita de que o ex-presidente estava atrás do foro privilegiado que o cargo lhe garantiria. Na mesma decisão, Mendes, que chegou ao STF sob indicação do então presidente Fernando Henrique Cardoso, em 2002, havia remetido a investigação sobre Lula para Curitiba — pela decisão de Zavascki, isso só deverá ocorrer após o Supremo definir que parte do processo fica no STF e que parte volta para a primeira instância.
Votos
Teori Zavascki, relator da Lava Jato no Supremo. Nelson Jr.STF
Para Joaquim Falcão, professor da FGV Direito Rio, o Supremo tem plena competência para lidar com essas questões, mas precisa tomar cuidado com a individualização das decisões. “Precisamos de mais plenário e menos liminares, mais decisões colegiadas e menos decisões individualizadas”, diz Falcão. O problema, segundo o professor, é que existem mais de 30 maneiras de acionar o Supremo, entre mandados de segurança, ações diretas de inconstitucionalidade, petições, agravos e embargos que tornam o sistema extremamente complexo.
A ministra Rosa Weber, outra indicada por Dilma de atuação discreta na Corte, negou na terça-feira um pedido de habeas corpus da defesa do ex-presidente Lula contra a decisão de Gilmar Mendes de suspender a posse na Casa Civiil. No mesmo dia, o ministro Luiz Fux — que chegou ao Supremo pouco antes do julgamento do mensalão e votou duramente contra os condenados pelo esquema — também negou provimento a um mandado de segurança que questionava a decisão de Mendes de remeter o processo de Lula para o juiz Sérgio Moro. Ambos citaram jurisprudência que visa evitar uma guerra de liminares entre ministros da corte.
Outro ministro do STF que negou pedido da defesa de Lula nesta semana foi Edson Fachin, também pelo mesmo motivo. Juiz mais novo da Corte Suprema, Fachin enfrentou pressões públicas e teve de fazer campanha de gabinete em gabinete para conseguir convencer os senadores de que não assumiria vaga no Supremo para defender o Governo Dilma. O motivo: Fachin apoiou a candidatura de Dilma publicamente em 2010, com direito a discurso disponível na internet. Na primeira votação importante, contudo, votou contra a vontade do Governo, ficando entre os vencidos quanto ao rito do impeachment que atribuiu mais importância ao Senado no processo.
“O Judiciário não é um órgão de Governo, mas um órgão impeditivo do desgoverno”, diz o ex-ministro do STF Carlos Ayres Britto
A desconfiança com Fachin se assemelha àquela sentida em relação aos ministros Luis Roberto Barroso e Antonio Dias Toffoli. Um dos mais novos na Corte, Barroso participou da mobilização para a criação do PT nos anos 1980 e tem adotado posições progressistas no Supremo, em particular no seu voto pela liberação da maconha. No rito do impeachment, abriu a dissidência que resultaria em desfecho celebrado pelos governistas. Já Dias Toffoli, que foi advogado do PT e ficou marcado popularmente no julgamento do mensalão por supostamente votar para amenizar a situação de petistas como o ex-ministro José Dirceu, tem adotado com muito vigor posições parecidas com as do antipetista Gilmar Mendes.
Golpe ou não golpe
Os ministros do STF não vivem completamente apartado do mundo político — prova disso são a polêmica em torno da reunião de Lewandowski com Dilma em Portugal, no ano passado, por exemplo. Oficialmente, eles disseram que discutiram o aumento do Judiciário. Mais recentemente, a polêmica envolveu o encontro público de Gilmar Mendes com o senador oposicionista José Serra (PSDB). “Eu não estou proibido de conversar com Serra, nem com Aécio (Neves, também senador tucano), nem com pessoas do Governo”, disse Mendes, em entrevista à BBC Brasil.
Nos últimos dias, a participação deles no cenário político se intensificou. Ao menos dois deles, Carmém Lúcia e Dias Toffoli, foram instados por órgãos de imprensa a comentar se “impeachment é golpe”. Responderam o óbvio, sem entrar no mérito do caso de Dilma Rousseff: reafirmaram que o instrumento está previsto na Constituição. Desde que respeitados os preceitos legais, não é golpe.
Indicada por Lula, a ministra Cármen Lúcia foi dura com os petistas durante o julgamento do mensalão, em particular ao condenar os argumentos de defesa que apresentaram o caixa dois como um crime menor ou corriqueiro. Nesta semana, foi a que mais falou sobre os caminhos do processo de impeachment. Em entrevista à GloboNews, disse: “O processo de impeachment é previsto na Constituição. Não se pode falar em golpe se houver observância da Constituição. Agora, é preciso observar a Constituição para a gente ter garantia de que não há golpe, que, aí sim, teria de afrontar a Constituição, deixar de cumpri-la”, começou.
E acrescentou: “O processo do impeachment é político-penal, no sentido de que há uma previsão e a necessária e imprescindível observância das leis e da Constituição, para se instalar – autorizar pela Câmara, e processar e julgar pelo Senado – um crime. E crime é uma prática que precisa ser comprovada. Só que, como tem o conteúdo político, o julgamento se faz por uma outra Casa que não o Poder Judiciário. O Senado se transforma em órgão de julgamento presidido pelo presidente do Supremo”.
Questionada se o processo poderia ser judicializado, ele sugeriu que, após chegar ao Senado, é pouco provável. “Pela singela circunstância de que o que vai para Poder Judiciário é a não observância das leis e um processo conduzido pelo presidente do Supremo, que neste caso preside a Casa julgadora, não deixará ocorrer nada que transgrida a Constituição e e as leis. A competência é do Senado, não é do Poder Judiciário.” Lúcia deve ser a próxima presidenta do Supremo.
Demais votos
Já o ministro Marco Aurélio Mello, um dos mais antigos da Corte — ele foi indicado por Fernando Collor de Mello, seu primo, em 1990 —, tem feito declarações públicas em defesa da estabilidade institucional, o que, alguns leem, como indiretamente um benefício ao Governo em atividade.
Completam a lista o atual presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, marcado por setores da opinião pública, assim como Toffoli, por ser mais suave com os petistas no julgamento do mensalão e por seus embates com o relator daquele caso, Joaquim Barbosa; e, por último, o decano Celso de Mello. Membro mais antigo do grupo (desde 1989), Mello se posicionou publicamente, em nome do STF, sobre o conteúdo das gravações em que o ex-presidente Lula se referiu à Corte como “acovardada” diante do que chamou de “República de Curitiba”. A julgar pelo duro tom escolhido por Mello para a ocasião, as apostas são de que Lula e o Governo Dilma não terão vida fácil por ali. Neste fim de semana, um vídeo com declarações dele a uma mulher que o abordou num lugar público circulou nas redes sociais. Mello defendeu a Operação Lava Jato, que, segundo ele, “tem por finalidade expurgar a corrupção que tomou conta do Governo e de poderosíssimas empresas brasileiras”.
Nas próximas semanas, todos estarão atentos a todas as falas e gestos dos 11 do Supremo. Pressões e politizações à parte, o ex-ministro Ayres Britto repete que “o Judiciário não é um órgão de Governo, mas um órgão impeditivo do desgoverno”.