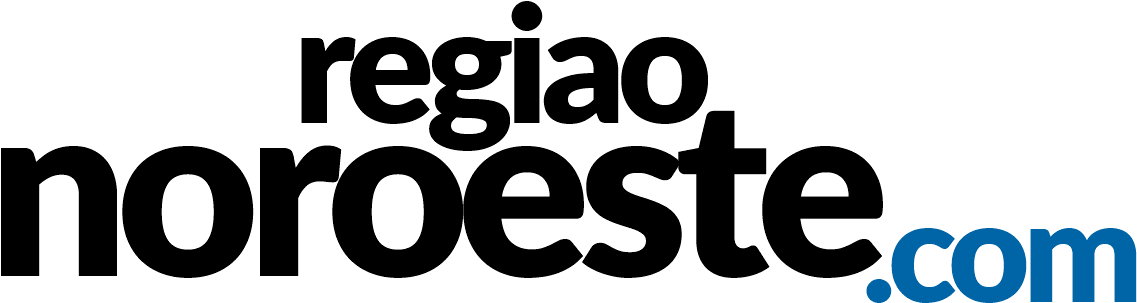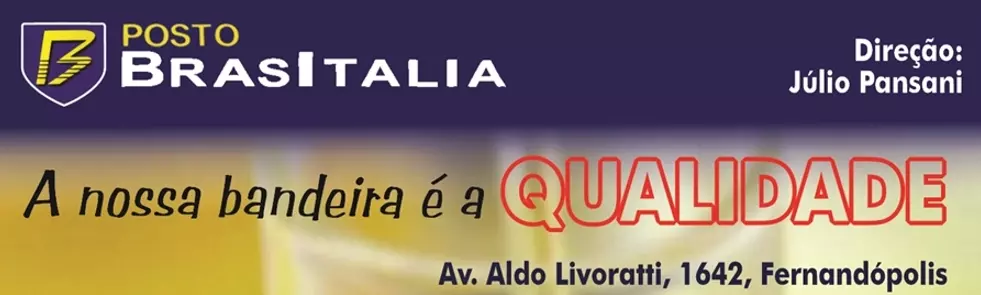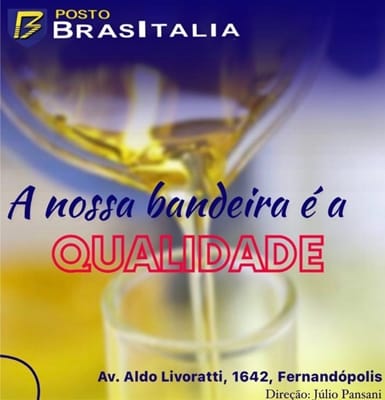Desde tempos imemoriais da história da humanidade, a fé tem sido tema recorrente e de potencial ação de diferentes culturas e religiões no mundo. De seu lado, a ciência, especialmente a neurociência, tem-se empenhado em compreender a natureza e a influência da fé no comportamento humano, investigando a relação entre fé e funcionamento do cérebro humano (Azevedo; Breu; Thompson, 2024).
Segundo a neurociência, quando as pessoas se envolvem em práticas religiosas, como a oração e rituais religiosos, ativam as regiões cerebrais relacionadas à emoção, cognição e percepção, aparecendo a fé como uma atividade cerebral mensurável e passível de estudo e demonstração científica (Rodrigues et al., 2023). Sugere-se que as dimensões neurofisiológicas da cognição religiosa podem modular mecanismos cognitivos ligados a crenças e experiências com estimulação cerebral (Maraldi; Martins, 2017). Esta abordagem cognitivo-evolucionista parece convergir para uma compreensão das origens naturais da religião, embora permeiem lacunas, incertezas e divergências nos detalhes, aproximações e questionamentos, e a mente mística faz com que o cérebro humano enseje vivências transcendentais, fundindo opostos na sensação de uma unidade transcendente (Silva; Santos, 2017).
Fé e espiritualidade raramente têm dialogado com ciência, medicina e saúde. Acredita-se mesmo que ciência e religião, quando interligadas de alguma forma, parecem carrear uma natural dissonância, um contraponto ou um intercâmbio conflituoso (Trindade et al., 2022). Apesar disso, Gomes, Farina e Dal Forno (2014) têm tratado a espiritualidade sob nuances diversas, mas – e principalmente – relacionadas aos contextos de saúde (sobretudo mental) e bem-estar; todavia, a dimensão espiritual não é, necessariamente, adesão a uma religião, posto que vai além de uma confissão religiosa, sem dependência de lugar, tempo ou código.
Quando se fala em espiritualidade, tem-se que ela é universal, ocupa todo o ser e sua essência. É uma “presença íntima, constante; é parte da nossa vida. Alguns seres humanos são mais espirituais e outros, menos; mas, na verdade, somos todos espirituais e espiritualizados” (Silva; Silva, 2014, p. 209). A espiritualidade sempre se apresenta no cotidiano (trabalho, saúde, educação, lazer, religião), na intimidade de cada um, agnóstico e ateu, e em todos os momentos da existência.
Também se admite que crenças espirituais ou religiosas têm sido avessas às interlocuções com médicos e outros profissionais da área da saúde e, quando ocorrem, é comum sejam ignoradas ou mesmo tratadas como algo de pouco valor, que pouco ou nada têm a ver com saúde ou cura de doenças (Murakami; Campos, 2012). Todavia, percepções de alguns médicos apontam para a existência de relação da religiosidade de seus pacientes com a doença e as exigências do tratamento: seus discursos têm revelado o “reconhecimento da presença e da importância das crenças religiosas no contexto da assistência médica […] como um recurso psicológico tanto no enfrentamento das dificuldades da doença e do tratamento” do paciente, quanto no “enfrentamento das situações difíceis vividas no exercício profissional” por parte do médico (Pinto; Falcão, 2014, p. 38).


Embora a saúde seja uma das áreas mais complexas para o exercício da espiritualidade, tem-se comprovado a eficiência da espiritualidade na recuperação de pacientes e, por isso mesmo, tem sido exercida por profissionais de saúde e seus pacientes, revelando índices favoráveis no enfrentamento e superação de qualquer enfermidade – o que destaca a importância da prece, da fé, da participação religiosa em favor da melhoria da saúde física e mental (Silva; Silva, 2014; Vasconcelos, 2015).
O discurso médico tem evidenciado existirem dificuldades em conversar com os pacientes e mesmo com os pares médicos sobre questões religiosas (Castelhano; Wahba, 2019). Há indicações de que se reconhece o despreparo do profissional de saúde para lidar com o tema, quer pela sua complexidade ou pelas dificuldades encontradas sobre o assunto, quer pelas condições impostas ao atendimento (como a limitação do tempo), quer por falhas na comunicação médica que gera impactos ou distorções na compreensão da fala do médico pelos pacientes, com diferentes ruídos comunicativos (Defante et al., 2024). Ainda há que se considerarem dificuldades de acesso aos serviços e procedimentos de saúde pelos pacientes, como restrições do trabalho, vulnerabilidades físicas, baixa expectativa de vida associada à maior prevalência de transtornos depressivos ou ansiosos, calcados na desesperança e, em especial, no suicídio como solução (Marback; Pelisoli, 2014; Penso; Sena, 2020).
Admite-se, porém, que a religiosidade se tem apresentado como fator de proteção da qualidade de vida dos pacientes (Pinto; Falcão, 2014). A associação entre religiosidade e saúde tem vínculos históricos: na maior parte da história da humanidade, a magia, a religião e a cura quase sempre caminharam juntas, embora o discurso médico-científico tenha sido marcado pela expectativa da neutralidade e da objetividade, relegando aspectos culturais no relacionamento com pacientes, inclusive a religiosidade (Pinto, 2019). Todavia, crenças e práticas religiosas podem estar associadas a maior bem-estar, a uma saúde mental melhor e mais expressivo sucesso no enfrentamento de estresse elevado e da condição de saúde desfavorável (Koenig, 2007). No enfrentamento de uma doença, diferentes recursos são mobilizados, colocando em evidência o predomínio da espiritualidade/religiosidade (De La Longuiniere; Yarid; Silva, 2018; Marcolino; Barboza; Pena, 2024).
Altoé (2023) assegura que religião, religiosidade e espiritualidade exercem papéis significativos na sociedade contemporânea, oferecem inúmeros benefícios e desempenham diversas funções na vida das pessoas. Embora se encontrem variações individuais e culturais em contextos históricos diferentes, essa tríade impacta distintas esferas da vida atual, provendo um sistema de valores e significados que norteiam a compreensão do mundo, a busca e encontro de um propósito de vida e respostas para questões existenciais, permitindo ao indivíduo orientar e estruturar meios de como lidar e superar desafios (Almeida; Fernandes, 2021; Souza, 2024). Religião, religiosidade e espiritualidade oferecem espaços de “pertencimento, interconexão e compartilhamento de crenças semelhantes” e são enorme “diferencial em momentos de crise, perda, doença ou transições importantes” (Altoé, 2023, p. 3).
No campo da saúde, da saúde mental e da subjetividade humana, religião, religiosidade e espiritualidade aparecem associadas à promoção do bem-estar e a menores taxas de adoecimento, à redução de índices de ansiedade, estresse e depressão (Oliveira; Junges, 2012). Conhecer e valorizar as crenças e a religiosidade dos pacientes pode colaborar para sua adesão ao tratamento, a obtenção de melhores resultados das intervenções e hábitos de vida saudáveis, suporte social, menores taxas de estresse e redução de mortalidade: as práticas religiosas tendem a oferecer possibilidades de prover um significado de vida, sustentar uma vida saudável com melhor qualidade, potencializando a integralidade em saúde (Pinto; Falcão, 2014).

A integralidade visa garantir ao indivíduo uma assistência à saúde que transcenda a prática curativa: ela contempla uma visão holística do ser humano em todas as suas dimensões biopsicossociais, ou seja, um atendimento e tratamento completo, integral ao paciente. Seu cuidado inclui múltiplas práticas para promoção e recuperação da saúde, prevenção de doenças, tratamento e abordagens de aspectos diversificados que implicam a produção da saúde, entre quais se enquadram a espiritualidade e a religiosidade, importantes dimensões que se agregam ao cuidado em saúde (Pinheiro; Mattos, 2009; Gerhardt et al., 2016).
Para Carnut (2017, p. 1180), a “integralidade é uma forma de ampliar o olhar dos profissionais para além da lógica da ‘intervenção pura’, tentando alcançar os contornos do que se compreende como ‘cuidar’, no âmbito da construção dos serviços de saúde”. Segundo Gerhardt et al. (2016, p. 15), o embate principal da integralidade está em conceber práticas que tomem o sujeito em sua “singularidade, complexidade, integralidade e inserção sociocultural em busca da promoção de sua saúde, da prevenção, do tratamento de doenças e na redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer suas possibilidades de viver de modo saudável”.
Todavia, abordar a religiosidade e a espiritualidade no ambiente médico e clínico incorpora grande complexidade. Trata-se de um desafio, pois médicos e demais profissionais de saúde se defrontam com dificuldades para tratar do assunto com os pacientes e com seus familiares, embora se encontrem evidências de que a vivência religiosa seja importante na vida tanto de vários desses profissionais quanto dos pacientes e, principalmente, na perspectiva de morte iminente do paciente (Murakami; Campos, 2012; Vasconcelos, 2015; De La Longuiniere; Yarid; Silva, 2018; Melo et al., 2022; Amoedo et al., 2023).

Trofa et al. (2021, p. 2) demonstram que a “espiritualidade e a religiosidade de um indivíduo podem influenciar no seu processo saúde-doença-cuidado”, e podem estar associadas à “redução da mortalidade […], à melhora da qualidade de vida […] e da saúde”. Além disso, grande parte dos pacientes tem interesse em discutir espiritualidade no contexto do atendimento em saúde. Assim, é necessário que médicos e demais profissionais em saúde desenvolvam a adequada competência para abordar dimensão espiritual/religiosa do paciente, de forma que tenham melhor desempenho, devotem um olhar para o processo saúde-doença-cuidado de modo integral e superem as principais barreiras (como tempo e falta de conhecimento ou treinamento) encontradas na atenção que os inibem ou impedem de discutir a espiritualidade em sua prática clínica (Souza; Carvalho; Scorsolini-Comin, 2020).
Em Psicologia, discutir a religiosidade e a espiritualidade ainda é um desafio, e muitos profissionais de saúde enfrentam dilemas e angústias quanto à postura adequada na abordagem aos pacientes sobre esses temas, o que pode resultar em um acolhimento superficial que não englobe as demandas dos sujeitos em atendimento hospitalar ou em clínicas (Souza; Carvalho; Scorsolini-Comin, 2018). Muitas vezes, os profissionais de saúde “podem não levar em consideração o processo pessoal ou as crenças e valores que norteiam a conduta para uma boa qualidade de vida e saúde mental do indivíduo” (Carmo; Vidal; Jacinto, 2022, p. 283).
É oportuno realçar a necessidade de o profissional de saúde estar atento à fé religiosa de seu paciente e reconhecer sua dimensão espiritual à proporção que ela é capaz de lhe conferir estímulo, coragem e esperança para enfrentar e superar adversidades e doenças. Ao psicólogo cabe preparar-se para ouvir as queixas do sujeito atendido e com ele entrar em sintonia espiritual (transcendente): sua postura pode determinar importante papel na construção de um sentido ao viver ou superação do sofrimento inerente a uma doença, o que tende a facilitar a dimensão do cuidado ao enfermo (Espíndula; Valle; Bello, 2010).
Embora sejam conceitos entrelaçados e ligados a um Deus, religiosidade, religião e espiritualidade se diferenciam, embora apresentem conexões e, por isso, sejam, frequentemente, confundidos e tomados como sinônimos (Altoé, 2023).
A religiosidade se sustenta como universal entre os seres humanos em busca do conceito de transcendentalidade que lhes possa conferir sentido à vida e fundamentar normas de conduta, ou oferecer explicação a fenômenos naturais como nascimento e morte (Panasiewicz, 2013; CRP-SP, 2016a). Pereira e Martins (2022, p. 537) abonam que a “religiosidade precisa ser entendida como uma manifestação essencial da vida interna do sujeito”, portanto, a psicologia, de maneira alguma pode ignorá-la. A religiosidade não se baseia apenas em dogmas ou rituais, mas reporta uma experiência com o sagrado e com o poderoso dentro da ótica existencial e permeia a forma de agir e ver dos indivíduos (Benevides, 2020).
Almeida e Stroppa (2012) percebem a religiosidade como um subconjunto da espiritualidade, um sistema organizado de crenças e práticas desenvolvidas que facilitam a aproximação com o transcendente. Segundo Mónico (2021, p. 953), a religiosidade corresponde ao grau de aderência de uma pessoa às crenças, doutrinas e práticas de uma religião, cuja manifestação se traduz no reconhecimento de uma força imaterial que “transcende todos os afazeres, humanos e não-humanos, consubstanciada na procura de significado, unidade, ligação e transcendência humana”.
Eis, pois, que os conceitos de espiritualidade e de religiosidade são distintos, embora se imbriquem sem uma linha demarcatória nítida entre ambos: uma pessoa pode ser religiosa e espiritualizada, ou ter espiritualidade sem estar associada a uma religião; a espiritualidade (como conjunto de emoções e convicções de natureza imaterial) manifesta-se pela crença-motivo para a existência, além da materialidade da vida (Oliveira; Junges, 2012; Silva; Silva, 2014; Oton, 2021; Altoé, 2023), em junção/fusão direta com o espírito, com uma anima (González Pecotche, 2017).
A religiosidade é a conexão com determinada religião, particularizada por seus preceitos, crenças e práticas por ela defendidas e propagadas. É “manifestação do sagrado […] presença de uma potência sobrenatural em que se mostra o poder por meio de algum símbolo como uma força sobrenatural” (Bernardi; Castilho, 2016, p. 751): este sagrado envolve os seres humanos e cria vínculos com o numinoso, transcendente, eterno, perfeito – a sensação de presença divina que acompanha a experiência do sagrado (Albuquerque Júnior, 2017; Neubern, 2022; Laranjeira, 2024). O que se busca nas proposições religiosas é a verdade e o sentido da vida, uma força considerada superior que serve de alento às mais hostis situações do dia a dia da vida (Altoé, 2023).
Panasiewicz (2013, p. 608) confirma que religiosidade diz respeito à abertura existencial que o ser humano mantém com o mistério transcendente, “que o inunda, perpassa e traspassa. Essa porção de mistério, presente no dia a dia, pode acontecer por meio da experiência religiosa — medo e/ou atração diante do sagrado – e da experiência de Deus – sentido radical e amor pleno”. É entendida como a expressão ou prática que pode estar relacionada com uma instituição religiosa (comumente chamada de igreja). Ela possibilita ao sujeito experiências místicas, mágicas e esotéricas, a expressão da espiritualidade diante de valores, crenças e rituais em que se vivenciam os símbolos religiosos (Tavares et al., 2016; Inoue; Vecina, 2017).
Oliveira e Junges (2018) admitem que, para indivíduos com doenças e problemas psicológicos, a religiosidade, conjugada com a espiritualidade, tem papel significativo na busca do autoconhecimento para a promoção da saúde integral, além de compor importante estratégia de enfrentamento de doenças e atenuação do sofrimento (Siqueira et al., 2017). A religiosidade constitui significativo instrumento para a saúde mental: consegue estabilizar emoções, favorece a sinergia para a sociabilidade dos grupos religiosos e estimula comportamentos saudáveis (Dalgalarrondo, 2008). Na relação doença e cura, as dimensões espirituais e religiosas têm particular atenção e são especialmente valorizadas pela psicologia e pela medicina, de forma que a religiosidade, tanto quanto a espiritualidade, atuam fortemente no processo de recuperação e cura (Barth, 2014).
Portanto, no âmbito da saúde, cresce o reconhecimento da religiosidade como importante fator de recomposição da saúde física e mental. A conjugação religiosidade/espiritualidade vincula-se ao enfrentamento de doenças, à promoção e reabilitação da saúde, ao bem-estar psicológico, e constituem barreiras contra a ansiedade e a depressão (Inoue; Vecina, 2017; Altoé, 2023), com índices menores de adoecimento (De La Longuiniere; Yarid; Silva, 2018). No âmbito da religiosidade, a psicologia procura compreender o comportamento humano em sua totalidade, reconhecer as dimensões da saúde física e mental, pensamentos, valores, crenças etc., e suas influências sobre comportamentos e sistemas de valores dos sujeitos, sendo capaz de moldar decisões morais, sociais e de saúde (Borba; Reichow, 2024).
A religião é uma dimensão fundamental da experiência humana e está presente em todas as culturas: ao sacralizar o mundo, o homem religioso se fundamenta na fé que realiza a crença em algo sobrenatural e sagrado. Para o sujeito religioso, a religião explica sua vida e a vida humana, a morte e a efemeridade corpórea do ser humano, ajuda-o a explicar-se internamente, ilumina o caminho para a descoberta do seu psiquismo. Estudar a religião é estudá-la de um ponto de vista psicológico e, desta forma, algo indispensável (Almeida; Fernandes, 2021).
Oliveira e Junges (2023, p. 470) têm a religião como o “aspecto institucional e doutrinário de determinada forma de vivência religiosa. Define-se por determinadas crenças e ritos referidos ao transcendente e entendidos como meios que oferecem salvação”. Religião delineia um conjunto específico de crenças e práticas organizadas, geralmente compartilhadas por uma comunidade ou grupo. É “manifestação de atos de culto, de ritos e de outras formas de expressão religiosa” e se traduz no ensinamento e aprendizado transmitido entre gerações pela família, educação e o conhecimento (Silva; Silva, 2014). A religião, geralmente ligada a doutrinas, teologias, dogmas, cultos e rituais etc., vai muito além das práticas ritualísticas, traduz uma experiência pessoal e profunda de conexão com o mistério da vida e do universo e corresponde a um princípio orientador das ações da vida.
A espiritualidade acompanha o homem ao longo da história, e sua influência abrangente não se restringe ao âmbito sociocultural, mas avança para a instituição da subjetividade do indivíduo, expressa crenças, valores, emoções e comportamentos relacionados a ela (Ferreira; Hasan; Lopes, 2024). Constitui um dos elementos da vida humana e se caracteriza pelo significado que o sujeito atribui à sua existência, permeando uma reflexão subjetiva, distinta dos dogmas religiosos vinculados a uma crença e a rituais de uma religião específica (Campos et al., 2023). Embora, rotineiramente, comungue uma religião, está diretamente relacionada com o sagrado, o transcendente – Deus, poder superior, realidade última (Almeida; Stroppa, 2012).
Antecedendo à religião, incluindo ou não a crença em alguma santidade ou envolvendo práticas religiosas (Cunha; Rossato; Scorsolini-Comin, 2021), a espiritualidade reforça sistemas de apoio social, proporciona resiliência emocional e é capaz de orientar escolhas e atitudes pessoais nas diferentes esferas da vida (Oliveira; Pinto, 2018). Na atualidade, tem-se tornado objeto de estudo no campo biológico, psicológico e social, percebida como algo positivo na vida das pessoas, estando, porém, separado do conceito de religião e podendo atuar na área específica da saúde – a saúde mental (Campos et al., 2023).
Chequini (2007, p. 95) acentua que a espiritualidade, como característica intrínseca do ser humano, se destaca como mediadora capaz de dotar o indivíduo de recursos importantes para superar adversidades, contribui fortemente na busca de sentido e significado para a existência e leva em consideração o conhecimento pessoal, o “reconhecimento de uma verdade universal ou de um poder superior capaz de nos remeter a uma sensação de plenitude e bem-estar com o mundo, de unidade com o cosmos e com a natureza”. Identifica os sistemas de crenças capaz de ressignificar a adversidade dentro de uma perspectiva positiva, transcendente e espiritual, além da própria vida (crença na vida post mortem), na perspectiva da existência de uma alma como um ente imaterial (Chequini, 2007).
Para o paciente, a espiritualidade é fator de amparo à prática em saúde pela proximidade da fé com aspectos positivos de personalidade e prognóstico clínico: a fé tem influência positiva na saúde e gera bem-estar, embora não se deva descuidar das influências negativas quando a pessoa expressa insatisfação na sua relação com o sagrado e repensa sua adversidade ou infortúnio como punição ou perseguição (Raddatz; Motta; Alminhana, 2019). Atuando na esfera mental e subjetiva, a espiritualidade contempla sentimentos positivos e negativos, memória, pensamentos, aprendizagem, concentração, autoestima, imagem corporal (Gonçalves, 2019), e compõe estratégias para lidar com situações adversas (Campos et al., 2023).
Conquanto a espiritualidade evidencie a centralidade da religião na vida das pessoas para a edificação de valores, atitudes e comportamentos em diferentes aspectos e ambientes sociais, o psicólogo ou psiquiatra hão de ter um olhar atento para os aspectos negativos do universo religioso e da vida real das pessoas: no âmbito da psiquiatria, “a espiritualidade, a religião, a religiosidade e suas manifestações estiveram, historicamente, associadas a atitudes negativas que comprometiam a evolução do quadro clínico e influenciavam na produção de sintomas” (Reinaldo; Santos, 2016, p. 163). Embora possa aparecer associada ao fanatismo, mortificações e opressões no uso inadequado dos serviços de saúde, o envolvimento religioso está relacionado, sobremaneira, a melhores resultados na recuperação de doença física e mental, manutenção da saúde mental e física e promoção da longevidade.
Os aspectos negativos relacionadas à espiritualidade podem ligar-se à interferência de fundamentos religiosos distorcidos no comportamento das pessoas e resultar falhas no contato com a realidade, sentimento de culpa ou vergonha, exclusão social e recusa a tratamentos médicos imprescindíveis, o que acaba por prejudicar o restabelecimento e manutenção da saúde (Benites; Neme; Santos, 2017). Embora se destaquem os benefícios e a relevância da espiritualidade para a saúde mental, pode ocorrer relutância dos psicoterapeutas e profissionais médicos quanto a considerá-la em sua prática clínica em saúde mental – hesitação muitas vezes atribuída à falta de capacitação, habilidade e confiança desses profissionais para lidar adequadamente com questões relacionadas ao espírito/alma (Chequini, 2020; Monteiro et al., 2020).
A espiritualidade, única na pessoa, traduz uma prática individual, vinculada a uma sensação de paz de espírito, algo maior do que o ser humano, direcionada aos propósitos de vida, à humana essência (Oton, 2021). Trata-se de uma “dimensão peculiar de todo ser humano e o impulsiona na busca do sagrado, da experiência transcendente na tentativa de dar sentido e resposta aos aspectos fundamentais da vida” (Gomes; Farina, Dal Forno, 2014, p. 109).
Dimensão característica dos seres humanos, expressa a totalidade do ser dando-lhe sentido e vitalidade em busca da conexão pessoal com algo transcendente que dá sentido à vida (Aquino et al., 2009; Trindade et al., 2022), ao profundo sentimento de pertença e aceitação – uma transcendência que considera o que está para além da vida material e tangível, relacionada ao que se acredita pela fé – a alma. Caracteriza-se pela intimidade do ser humano com algo maior, superior, inscrito no “santuário do ser, mesmo sem uma fórmula explícita” (Silva; Silva, 2014, p. 204).
A expressão mais evidente da espiritualidade é o amor incondicional, ilimitado, força motora invisível muitas vezes despercebida pelos profissionais da saúde: pela espiritualidade se aprofunda e desenvolve a fé, a compreensão do cosmos e da dimensão existencial (Herbes, 2022). A espiritualidade eleva a pessoa para além de seu mundo pessoal e a coloca diante de questões mais profundas, brotadas de sua interioridade, em busca de resposta às perguntas existenciais: “De onde vim? Para onde vou? Qual é o sentido da minha vida? Que lugar eu ocupo neste Universo? Que propósito tem minha vida? Por que aconteceu isso comigo?” (Gomes; Farina, Dal Forno, 2014, p. 109), isto é, a busca de sentido essencial da vida.
Simões et al. (2018) aduzem que a espiritualidade interfere em todos os aspectos da vida humana, contribui para o enfrentamento de desconfortos que surgem ao longo de sua existência. A “espiritualidade gera possibilidades de se construírem novos valores, de se adquirirem e conservarem sentimentos mais nobres entre as pessoas, o que vai fazer bem, tanto para saúde física quanto para a saúde mental” (Zanotelli, 2016, p. 57). Contudo, ao se falar de saúde, é essencial abordar todas as dimensões vivenciadas pelo ser humano: as ações em saúde abrangem a aplicação de meios humanizados, visando ao que seja saudável, inclusive à oferta de espaço para a subjetividade do indivíduo: a espiritualidade é elemento constituinte dessa subjetividade e, por isso mesmo, deve ser valorizada e apreciada sob uma visão holística de integralidade (Melo et al., 2015; Trindade et al., 2022).
A espiritualidade envolve a capacidade de interiorizar questões íntimas e profundas sobre o sentido da vida corpórea e o que está além dela. Pode traduzir-se em busca por conhecimento, concepções religiosas diferentes e práticas que contribuem para alcançar a paz interior, transformando-se em recurso valioso no enfrentamento das crises da vida, em instrumento ímpar para lidar e superar momentos difíceis e um recurso importante para alcançar a felicidade (CRP-SP, 2016b). A espiritualidade é capaz de restabelecer o equilíbrio, mobilizar forças e energias para recuperar a saúde e enfrentar os desafios ao longo do percurso da doença e do tratamento (Siqueira et al., 2017).
Apesar das vicissitudes do posicionamento da Ciência em relação à fé, à religiosidade e à espiritualidade nos recentes anos, em contexto da saúde, fala-se em “saúde espiritual” como uma das dimensões da saúde integral, e ter espiritualidade ou fé é considerado fator de proteção para a saúde mental (Akerman et al., 2020; Medeiros, 2022). Ademais, o ser humano sempre apresentou uma tendência à espiritualidade, ao metafísico, ao que vai além do palpável, do visto a olho nu ou sob um olhar microscópico, ao transcendente às realidades normais da vida (Oliveira; Junges, 2012; Monteiro et al., 2020; Nascimento; Caldas, 2020).
Dalgalarrondo et al. (2004), Panzini e Bandeira (2007) e Corrêa, Batista e Holanda (2016) apontam que indivíduos envolvidos em práticas religiosas têm menor probabilidade de se imiscuir em comportamentos de risco, como violência, delinquência e uso abusivo de substâncias como álcool e drogas. Koenig (2007) também observa que pacientes hospitalizados que se sentem desvinculados de religiosidade e sem apoio da comunidade religiosa a que pertencem tendem a manifestar maiores problemas psicológicos e taxas de mortalidade mais elevadas após os dois anos seguintes à alta hospitalar.
Assim, diante do papel que as crenças religiosas e espirituais podem ter na doença psiquiátrica e problemas psicológicos, é crucial que os psicólogos e “psiquiatras coletem uma história espiritual em que sejam exploradas as crenças do paciente que podem estar influenciando a doença mental e como o paciente está lidando com a doença” (Koenig, 2007, p. 6). O conhecimento do impacto das crenças religiosas sobre a etiologia, diagnóstico e evolução dos transtornos psiquiátricos certamente ajuda o profissional de saúde (psicólogo e psiquiatra, em especial) a compreender melhor seus pacientes, avaliar quando as crenças religiosas ou espirituais podem ser utilizadas para lidar melhor com a doença mental ou, opostamente, quando podem exacerbá-la.
A prática religiosa e espiritual promove bem-estar psicológico e emocional das pessoas, com a percepção de que há uma associação entre participação em atividades religiosas e redução da incidência de transtornos mentais como ansiedade, depressão e estresse (Monteiro et al., 2020). Os transtornos mentais correspondem a condições clinicamente significativas, marcadas por alterações do pensamento e do humor (emoções), ou por comportamentos vinculados à angústia pessoal ou à deterioração do funcionamento pessoal de uma ou mais esferas da vida (Reinaldo; Santos, 2016).
Além disso, a espiritualidade tem sido cotejada com níveis mais elevados de resiliência psicológica e capacidade ampliada de enfrentamento de adversidades (Alexandre; Lopes Júnior; Mendonça, 2024). A espiritualidade é um aspecto real da psique a influir imperiosamente na estruturação do desenvolvimento psicológico do indivíduo, movimentando-o em busca de sentido para sua existência e fazendo permearem amplos aspectos em toda sua vida, os relacionais, profissionais e os estritamente pessoais. Sendo importante na vida humana, a religião integra a constituição do homo religiosus, reúne e oferece diversos benefícios, como alívio do cansaço social, instilação de esperança para a vida e apoio nos momentos de adoecimento e luto (Pereira; Martins, 2022; Oliveira et al., 2023). Há de se admitir que, desde seus primórdios, os seres humanos têm manifestado fé na natureza, apondo registros de suas crenças: as religiões “reverenciam um ser superior e reconhecem o sagrado nas experiências subjetivas” (Azevedo; Breu; Thompson, 2024, p. 5).
A presença da religião/espiritualidade é capaz de fortalecer vínculos familiares e comunitários, proporcionar um sentido de pertença e apoio mútuo (comunitário) em tempos difíceis – fatores associados a melhores resultados de saúde mental (Azevedo; Breu; Thompson, 2024). Nas áreas da saúde, a espiritualidade (com prática religiosa, ou não, em cultos, cerimoniais etc.) tem sido reconhecida como terapia complementar nos tratamentos com sensíveis melhoras do bem-estar dos pacientes e no apoio aos familiares durante processos de doença e luto – situação amplamente reconhecida na atualidade (Oliveira et al., 2023). Monteiro et al. (2020) aventam que a fé e a espiritualidade ensejam um significado e um propósito na vida e contribuem para maior satisfação e bem-estar psicológico: a crença em um poder transcendente ou em um propósito maior, superior, ajuda os indivíduos na confrontação dos desafios existenciais e a encontrar conforto em momentos de sofrimento e perda.
Se a elação entre fé/espiritualidade e saúde mental promove benefícios psicológicos pela prática religiosa, não se deve descartar, porém, a possibilidade de surgirem conflitos ou dilemas de ordem espiritual que impactam a saúde mental das pessoas (Monteiro et al., 2020). Neste sentido, é necessário “compreender os mecanismos pelos quais a religião e a espiritualidade afetam a saúde mental”, o que pode “ajudar a informar práticas clínicas competentes, bem como promover intervenções psicossociais mais adequadas para indivíduos que buscam apoio espiritual em seu processo de recuperação e bem-estar emocional” (Azevedo; Breu; Thompson, 2024, p. 10).
A doença mental corresponde a um estado em que a pessoa não consegue manter-se em harmonia consigo e com as relações sociais que estabelece diante das intempéries cotidianas. Quando convive de forma desequilibrada em sociedade, o indivíduo se torna incapaz de converter suas possibilidades em realidades. Para a realização do bem-estar geral da pessoa, a integralidade deve constituir o eixo principal de atuação do profissional em saúde, garantindo a assistência segundo as necessidades individuais, sem se limitar ao tratamento da doença física apenas: o cuidado em saúde deve ir além do físico, do corpóreo, do material e alcançar a esfera psíquica, abrangendo, também, a espiritualidade, portanto, com um olhar holístico, integral, que atenda às necessidades individuais e de forma global, pela promoção da saúde física, espiritual, emocional, social, familiar (Salimena et al., 2016).
Para Tempone (2024), a espiritualidade é importante constituinte da qualidade de vida e reconhece sua eficácia na terapêutica de muitas doenças, sobretudo as mentais: está associada à busca de um sentido para a vida, a conexão do indivíduo com o sagrado ou transcendente, a alma, além da vida material, tangível. Sabe-se que transtornos mentais resultam do processo de desenvolvimento do indivíduo e de fatores diversos (como sociais, genéticos e ambientais) e implicam diferentes psicopatologias. A espiritualidade pode ter efeito positivo no tratamento de diversas doenças e transtornos mentais, paralelamente à medicação como um meio na obtenção da cura. Portanto, “compreender esse fenômeno, entender seu funcionamento e encontrar seu lugar no quebra-cabeça existencial deve ser um objetivo da Psicologia” (CRP-MG, 2019, p. 11).
A espiritualidade é dimensão que permeia a experiência humana, numa relação do self com algo exterior (Deus, o divino) e com as pessoas (Gomes; Bezerra, 2020). A vivência de altos e baixos nos estados de alma cria uma dinâmica que conduz ao crescimento espiritual, em oposição a uma espiritualidade pessoal estática, que não proporciona motivação (Tempone, 2024). A espiritualidade é um instrumento de promoção da saúde, caminha além das perspectivas materiais dos espectros fisiopatológicos e alopáticos do indivíduo. Tem reflexos na saúde, na expressão do indivíduo na comunidade e na sua maneira de ver o mundo (Lopes, 2024).
Por meio da espiritualidade, o indivíduo consegue encontrar um sentido para a vida, de continuidade (Arrieira et al., 2017), tanto diante das dificuldades quanto dos momentos amenos da existência, e constitui uma potência criativa na formação em saúde e na “vida anímica além da vida”. A possibilidade de morte motiva os atos humanos, como o amor; vincula a existência humana a uma vida intangível; em suma, valoriza a existência, e a transitoriedade da vida deve ser um incentivo para realizar as ações responsáveis no mundo: a consciência da finitude da vida desperta no ser humano o senso de responsabilidade, dá um sentido à vida diante expectativa da morte irreversível (Aquino et al., 2014).
O ser humano não é inteiramente material: algo superior anima seu existir e lhe permite pensar e sentir; é algo invisível, intangível, cuja existência ele suspeita, pressente, intui. É ente que articula seus movimentos na penumbra mental a que a inteligência do homem não tem acesso: é seu espírito, sua alma que, à medida que toma “maior ingerência na vida que anima, ilumina o âmbito interno e com isso aparece claro o porquê da origem das inquietudes espirituais” (González Pecotche, 2017, p. 26-27).
Ao abordar a temática espiritual na prática clínica, o psicólogo deve fazê-lo tendo em vista a compreensão da “essencial presença do religioso na existência humana”, não a podendo desconsiderar ou desqualificar como “experiência real e legítima da condição humana no mundo” (CRP-MG, 2019, p. 12). Religiosidade e espiritualidade estão fortemente associadas à saúde mental, e práticas religiosas e espirituais são aceitas como altamente positivas e como importantes ferramentas tanto na psicoterapia quanto no enfrentamento de situações estressantes e ansiosas, podendo promover qualidade de vida e bem-estar, fortalecer o suporte social e emocional, contribuir para o enfrentamento de situações adversas e reduzir sintomas de enfermidades (Borba; Reichow, 2024).
Compreender os pacientes em suas crenças é acolher, “dar crédito, receber, dar ouvidos, abrigar, aceitar” (Aubert, 2016, p. 161); é recolher julgamentos, teorias, suposições; é abrir espaço para as considerações, dúvidas e queixas do paciente. Este acolhimento da experiência religiosa diligencia conteúdos subjetivos relevantes na transformação do sentido da espiritualidade na vida da pessoa. Em clínica, sob a dimensão biopsicossocial e espiritual, pode-se lidar com as vivências espirituais sem abandonar a vertente psicológica (Gomes; Araújo, 2021): trata-se de respeitar o encontro entre psicologia e religião, sem direcionar o paciente para determinada religião ou lhe impor caminho e, ao mesmo tempo, acolher a espiritualidade integrante da natureza humana ou da integralidade da pessoa (Lana et al., 2022).
O profissional de saúde precisa estar atento à fé religiosa de seu paciente e reconhecer a dimensão espiritual à proporção que lhe confere estímulo, coragem e esperança para superar adversidades, enfermidades e o adoecer. Ao psicólogo cabe preparar-se para ouvir as queixas/lamúrias do paciente e com ele entrar em sintonia espiritual (transcendência): sua postura pode determinar importante papel ao paciente na construção de um sentido ao viver, superação do sofrimento, o que, para Espíndula, Valle e Bello (2010), tende a facilitar a dimensão do cuidado ao enfermo.
A espiritualidade implica ir além do autoconhecimento e adentrar as dimensões internas da alma que não existe para suprir as necessidades básicas do corpo: a espiritualidade é a essência mais verdadeira do ser humano. A finitude e a morte do corpo levam à imortalidade da “alma” (Aquino et al., 2014, p. 315), uma vez que o “homem religioso vive em função [da expectativa] de uma vida eterna”.
REFERÊNCIAS
AKERMAN, M.; MENDES, R.; LIMA, S.; GUERRA, H. L.; SILVA, R. A.; SACARDO, D. P.; FERNANDEZ, J. C. A. Religião como fator protetor para saúde. Einstein, São Paulo, v. 18, p. 1-4, 2020.
ALBUQUERQUE JÚNIOR, V. “Alegria e tremor ao mesmo tempo”: alguns aspectos simbólicos do numinoso em um hino clássico do protestantismo. Revista Último Andar, n. 30, p. 185-200, 2017.
ALEXANDRE, C. M. A.; LOPES JÚNIOR, H. M. P.; MENDONÇA, F. C. Espiritualidade e qualidade de vida: uma revisão dos efeitos positivos na saúde mental. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, São Paulo, v. 10, n. 11, p. 4805–4816, nov. 2024.
ALMEIDA, A. M.; STROPPA, A. L. P. C. Espiritualidade e saúde mental: o que as evidências mostram? Debates em Psiquiatria, Rio de Janeiro, v. 2, n. 6, p. 34-41, 2012.
ALMEIDA, F. A.; FERNANDES, A. M. Espiritualidade e religião/religiosidade dentro da psicologia da religião e da contemporaneidade. Revista Unitas, v. 9, n. 2, p. 182-196, 2021.
ALTOÉ, K. Religião e saúde: a espiritualidade no tratamento de fisioterapia dos pacientes idosos. Revista Foco, Curitiba, PR, v. 16, n. 12, e3867, p. 1-19, 2023.
AMOEDO, G. F.; SOUSA, J. B. B.; QUINTANILHA, L. F.; AVENA, K. M. Formação para enfrentar a morte na perspectiva de futuros médicos. Rev. bioét., v. 31, e3524, p. 1-11, 2023.
AQUINO, T. A. A.; CORREIA, A. P. M.; MARQUES, A. L. C.; SOUZA, C. G.; FREITAS, H. C. A.; ARAÚJO, I. F.; DIAS, P. S.; ARAÚJO, W. F. Atitude religiosa e sentido da vida: um estudo correlacional. Psicol. ciênc. Prof., Brasília, v. 29, n. 2, p. 228-243, jun. 2009.
AQUINO, T. A. A.; AGUIAR, A. A.; VASCONCELOS, S. X. P.; SANTOS, S. L. Falando de morte e da finitude no ambiente escolar: um estudo à luz do sentido da vida. Psicologia: Ciência E Profissão, v. 34, n. 2, p. 302-317, 2014.
ARRIEIRA, I. C. O.; THOFEHRN, M. B.; MILBRATH, V. M.; SCHWONKE, C. R. G. B.; CARDOSO, D. H.; FRIPP, J. C. O sentido da espiritualidade na transitoriedade da vida. Esc Anna Nery, Rio de Janeiro, v. 21, n. 1, e20170012, p. 1-6, 2017.
AUBERT, M. I. Encontros e desencontros da psicologia e religião: como acolher a religiosidade e a espiritualidade na clínica psicológica. In: CRP – Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Laicidade, religião, direitos humanos e políticas públicas. São Paulo: Editora CRP – SP, 2016. p. 161-165.
AZEVEDO, L. M. S.; BREU, S.; THOMPSON, S. A Neurociência da religião: interface entre a fé humana e perspectivas neurológicas. Revista Científica Cognitionis, v. 7. n. 2, e452, p. 1-16, 2024.
BARTH, W. L. A religião cura? Teocomunicação, Porto Alegre, v. 44, n. 1, p. 97-121, jan./abr. 2014.
BENEVIDES, R. B. G. Consciências saudáveis e almas enfermas: posturas éticas religiosas em William James. Estudos de Religião, v. 34, n. 3, p. 307-335, set./dez. 2020.
BENITES, A. C.; NEME, C. M. B.; SANTOS, M. A. A espiritualidade é importante para pacientes com câncer em cuidados paliativos? Estudos de Psicologia, Campinas, v. 34, n. 2, p. 269-279, abr./jun. 2017.
BERNARDI, C. J.; CASTILHO, M. A. A religiosidade como elemento do desenvolvimento humano. Interações, Campo Grande, MS, v. 17, n. 4, p. 745-756, out./dez. 2016.
BORBA, J. C.; REICHOW, J. R. C. Espiritualidade, psicoterapia e saúde mental: panorama dos estudos brasileiros. Bol. – Acad. Paul. Psicol., São Paulo, v. 44, n. 107, p. 146-158, dez. 2024.
CAMPOS, A. A.; MOURA, E. S.; POLAKOWSKI, L. C.; CORREIA, B. Z. M.; JAGHER, G. K.; MACHADO, P. G. B. A influência da espiritualidade na saúde mental de jovens e adultos: uma revisão sistemática. PsicoFAE: Plur. em S. Mental, Curitiba, PR, v. 12, n. 1, p. 52-64, 2023.
CARMO, C. O.; VIDAL, H. J.; JACINTO, P. Contribuições da religiosidade e espiritualidade para a saúde mental e qualidade de vida: uma revisão de literatura. Revista Sociedade e Ambiente, UNIFAAH, v. 3, n. 1, p. 282-297, 2022.
CARNUT, L. Cuidado, integralidade e atenção primária: articulação essencial para refletir sobre o setor saúde no Brasil. Saúde Debate, Rio de Janeiro, v. 41, n. 115, p. 1177-1186, out./dez. 2017.
CASTELHANO, L. M.; WAHBA, L. L. O discurso médico sobre as emoções vivenciadas na interação com o paciente: contribuições para a prática clínica. Interface, Botucatu, SP, v. 23, e170341, p. 1-14, 2019.
CHEQUINI, M. C. M. A relevância da espiritualidade no processo de resiliência. Psic. Rev. São Paulo, v. 16, n. 1/2, p. 93-117, 2007.
__. A religiosidade e a espiritualidade na prática psiquiátrica. 2020. 173 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, 2020.
CORRÊA, C. V.; BATISTA, J. S.; HOLANDA, A. F. Coping religioso/espiritual em processos de saúde e doença: revisão da produção em periódicos brasileiros (2000-2013). PsicoFAE, Curitiba, v. 5, n. 1, p. 61-78, 2016.
CRP-MG – Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. Psicologia, laicidade, espiritualidade, religião e outras tradições: encontrando caminhos para o diálogo. Belo Horizonte, MG: Editora CRP-MG, nov. 2019. 182 p.
CRP-SP – Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Psicologia, espiritualidade e epistemologias não-hegemônicas. São Paulo: Editora CRP – SP, 2016a. 304 p. (Coleção: Psicologia, Laicidade e as Relações com a Religião e a Espiritualidade; v. 3.)
__. Laicidade, religião, direitos humanos e políticas públicas. São Paulo: Editora CRP – SP, 2016b. 276 p. (Coleção: Psicologia, Laicidade e as Relações com a Religião e a Espiritualidade; v.1.)
CUNHA, V. F.; ROSSATO, L.; SCORSOLINI-COMIN, F. Religião, religiosidade, espiritualidade, ancestralidade: tensões e potencialidades no campo da saúde. Revista Relegens Thréskeia, v. 10, n. 1, p. 143-170, 2021.
DALGALARRONDO, P. Religião, psicopatologia e saúde mental. Porto Alegre, RS: Editora Artmed, 2008. 288 p.
DALGALARRONDO, P.; SOLDERA, M. A.; CORRÊA FILHO, H. R.; SILVA, C. A. M. Religião e uso de drogas por adolescentes. Rev Bras Psiquiatr, v. 26, n. 2, p. 82-90, 2004.
DEFANTE, M. L. R.; MONTEIRO, S. O. N.; SILVA, C. O.; SANTOS, L. R.; LEONARDO, R. S. Os impactos da comunicação inadequada na relação médico-paciente. Revista Brasileira de Educação Médica, v. 48, n. 1, e007, p. 1-9, 2024.
DE LA LONGUINIERE, A. C. F.; YARID, S. D.; SILVA, E. C. S. Influência da religiosidade/espiritualidade do profissional de saúde no cuidado ao paciente crítico. Rev Cuid, Bucaramanga, Colombia, v. 9, n.1, p 1758-1766, Jan./Apr. 2018.
ESPÍNDULA, J. A.; VALLE, E. R. M.; BELLO, Â. A. Religião e espiritualidade: um olhar de profissionais de saúde. Rev. Latino-Am. Enfermagem, v. 18, n. 6, p. 1-8, nov./dez. 2010.
GOMES, E. T.; BEZERRA, S. M. M. S. Espiritualidade, integralidade, humanização e transformação paradigmática no campo da saúde no Brasil. Rev. Enferm. Digit. Cuid. Promoção Saúde, v. 5, n. 1, p. 65-69, jan./jun. 2020.
GOMES, G. C.; ARAÚJO, A. S. Psicologia e espiritualidade na prática clínica. RECIMA21 – Ciências Exatas e da Terra, Sociais, da Saúde, Humanas e Engenharia/Tecnologia, v. 2, n. 7, e27546, p. 1-22, 2021.
GOMES, N. S.; FARINA, M.; DAL FORNO, C. Espiritualidade, religiosidade e religião: reflexão de conceitos em artigos psicológicos. Revista de Psicologia da IMED, v. 6, n. 2, p. 107-112, 2014.
GONÇALVES, C. M. Os contributos da espiritualidade para o desenvolvimento humano biopsicossocial. Desenvolvimento humano. Revista de Espiritualidade, Edições Carmelo, n. 106/107, p. 85-104, 2019.
GONZÁLEZ PECOTCHE, C. B. (1901-1963). O espírito. Tradução: Colaboradores voluntários da Fundação Logosófica em Prol da Superação Humana. 8. ed. São Paulo: Editora Logosófica, 2017. 204 p. [Título original: El espíritu]
FERREIRA, H. A. Q.; HASAN, S.; LOPES, S. M. B. Espiritualidade e psicologia: temáticas convergentes. Brazilian Journal of Health Review, Curitiba, v. 7, n. 2, p. 1-32, Mar./Apr. 2024.
GERHARDT, T. E.; PINHEIRO, R.; RUIZ, E. N. F.; SILVA JÚNIOR, A. G. (orgs.). Itinerários terapêuticos: integralidade no cuidado, avaliação e formação em saúde. Rio de Janeiro: Editora CEPESC / IMS/ UERJ – ABRASCO, 2016. 440 p.
GOMES, N. S.; FARINA, M.; DAL FORNO, C. Espiritualidade, religiosidade e religião: reflexão de conceitos em artigos psicológicos. Revista de Psicologia da IMED, v. 6, n. 2, p. 107-112, 2014.
HERBES, N. E. (org.). Nuances do aconselhamento pastoral hospitalar. São Leopoldo, RS: Editora Faculdades EST, 2022. 265 p.
INOUE, T. M.; VECINA, M. V. A. Espiritualidade e/ou religiosidade e saúde: uma revisão de literatura. J Health Sci Inst., v. 35, n. 2, p. 127-130, 2017.
KOENIG, H. G. Religião, espiritualidade e psiquiatria: uma nova era na atenção à saúde mental. Rev de Psiquiatr Clín, v. 34, supl. 1, p. 5-7, 2007.
LANA, V. C. S.; MOREIRA, F. L.; MOREIRA, E. M.; REZENDE JÚNIOR, A. R. N. Relação ética entre a psicologia clínica e religião: reflexões guiadas pelo enfoque da logoterapia e análise existencial. Phenomenological Studies – Rev. Abordagem Gestált., Goiânia, GO, v. 28, n. 1, p. 53-59, jan./abr. 2022.
LARANJEIRA, G. C. Entre o ópio e o numinoso: um diálogo sobre religiosidade, experiência religiosa e religião. Self – Rev Inst Junguiano São Paulo, São Paulo, v. 9, e003, p. 1-16, 2024.
LOPES, A. G. Integração da espiritualidade nos cuidados de saúde: a jornada do paciente. Rev. Bras. Neurol., v. 60, n. 3, p. 24-28, jul./set. 2024
MARALDI, E. O.; MARTINS, L. B. Contribuições da psicologia evolucionista e das neurociências para a compreensão das crenças e experiências religiosas. REVER, ano 17, n. 1, p. 40-69, jan./abr. 2017.
MARCOLINO, G. S. R.; BARBOZA, N. M.; PENA, J. L. C. Espiritualidade e religiosidade como recurso de enfrentamento para pessoas com doença oncológica. Enferm Foco, v. 15, e-202434, p. 1-7, 2024.
MARBACK, R. F.; PELISOLI, C. Terapia cognitivo-comportamental no manejo da desesperança e pensamentos suicidas. Rev. bras. ter. cogn., Rio de Janeiro, v.10, n. 2, p.122-129, dez. 2014.
MEDEIROS, N. M. P. F. C. A Bíblia e as doenças infecciosas: análise das narrativas de portadores de tuberculose resistente e a provação da fé. 2022, 217 f. Tese (Doutorado em Ciências das Religiões) – Universidade Federal da Paraíba (PPGCR/UFPB), João Pessoa, PB, 2022.
MELO, C. F.; SAMPAIO, I. S.; SOUZA, D. L. A.; PINTO, N. S. Correlação entre religiosidade, espiritualidade e qualidade de vida: uma revisão de literatura. Estud. pesqui. psicol, Rio de Janeiro, v. 15, n. 2, p. 447-464, jul. 2015.
MELO, V. L.; MAIA, C. Q.; ALKMIM, E. M.; RAVASIO, A. P.; DONADELI, R. L.; PAULA, L. O. E.; SILVA, A. E.; GUIMARÃES, D. A. Morte e morrer na formação médica brasileira: revisão integrativa. Rev. bioét. (impr.). v. 30, n. 2, p. 300-317, abr./jun. 2022.
MÓNICO, L. Religião, espiritualidade e saúde: funções, convivências e implicações. Horizonte, Belo Horizonte, v. 19, n. 60, p. 951-977, set./dez. 2021.
MONTEIRO, D. D.; REICHOW, J. R. C.; SAIS, H. F.; FERNANDES, F. S. Espiritualidade / religiosidade e saúde mental no Brasil: uma revisão. Bol. – Acad. Paul. Psicol., São Paulo, v. 40, n. 98, p. 129-139, jan./jun. 2020.
MOURA, E. S.; CAMPOS, A. A.; POLAKOWSKI, L. C.; MOREIRA, B. Z.; JAGHER, G. K.; MACHADO, P. G. B. A influência da espiritualidade na saúde mental de jovens e adultos: uma revisão sistemática. Revista PsicoFAE: Pluralidades em Saúde Mental, Curitiba, v. 12, n. 1, p. 52–64, 2023.
MURAKAMI, R.; CAMPOS, C. J. G. Religião e saúde mental: desafio de integrar a religiosidade ao cuidado com o paciente. Rev Bras Enferm, Brasília, v. 65, n. 2, p. 361-367, mar./abr. 2012.
NASCIMENTO, A. K. C.; CALDAS, M. T. Dimensão espiritual e psicologia: a busca pela inteireza. Rev. abordagem gestalt., Goiânia, v. 26, n. 1, p. 74-89, jan./abr. 2020.
NEUBERN, M. S. Chico Xavier, o numinoso e as ciências normativas: contribuições para a psicologia da religião. Phenomenology, Humanities and Sciences, v. 3, n. 1, p. 25-36, 2022.
OLIVEIRA, D. A.; AGUIAR, M. J. G.; TAVARES, G. S. C.; SILVA, R. M. F. Espiritualidade, religião e saúde, diálogos possíveis e interfaces necessárias: uma revisão da literatura. Ciências da Saúde, Ciências Humanas, Ciências Sociais, v. 27, n. 121, p. 1-20, abr. 2023.
OLIVEIRA, F. H. A. O.; PINTO, A. R. Psiquiatria e espiritualidade: em busca da formulação bio-psico-sócio-espiritual do caso. HU Revista, Juiz de Fora, v. 44, n. 4, p. 447-454, out./dez. 2018.
OLIVEIRA, M. R.; JUNGES, J. R. Saúde mental e espiritualidade/religiosidade: a visão de psicólogos. Estudos de Psicologia, v. 17, n. 3, p. 469-476, set./dez. 2012.
OTON, K. M. B. A espiritualidade e o sentido da vida na transição para o entardecer dos anos. 2021. 166 f. Tese (Doutorado em Ciências das Religiões) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2021.
PANASIEWICZ, R. Categorização de experiências transcendentais: uma leitura da religiosidade, da fé e da religião. Rev. Pistis Prax., Teol. Pastor., Curitiba, v. 5, n. 2, p.587-611, jul./dez. 2013.
PANZINI, R. G.; BANDEIRA, D. R. Coping (enfrentamento) religioso/espiritual. Rev. Psiq. Clín., v. 34, supl. 1, p. 126-135, 2007.
PENSO, M. A.; SENA, D. P. A. A desesperança do jovem e o suicídio como solução. Revista Sociedade e Estado, v. 35, n. 1, p. 61-81, jan./abr. 2020.
PEREIRA, D. R.; MARTINS, M. G. T. Psicologia da religião: a religiosidade e suas implicações no desenvolvimento psíquico dos sujeitos. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, São Paulo, v. 8, n. 8, p. 532-547, ago. 2022.
PINHEIRO, R.; MATTOS, R. A. (orgs.). Os sentidos da integralidade na atenção e no cuidado à saúde. 8. ed. Rio de Janeiro: Editora UERJ, IMS: Editora ABRASCO, 2009. 184 p.
PINTO, A. N.; FALCÃO, E. B. M. Religiosidade no contexto médico: entre a receptividade e o silêncio. Revista Brasileira de Educação Médica, v. 38, n. 1, p. 38-46, 2014.
PINTO, A. N. Podemos conversar sobre as crenças? Como pensam médicos em um hospital universitário. 2019. 194 f. Tese (Doutorado em Educação em Ciências e Saúde) –Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019.
RADDATZ, J. S.; MOTTA, R. F.; ALMINHANA, L. O. Religiosidade/espiritualidade na prática clínica: círculo vicioso entre demanda e ausência de treinamento. Psico-USF, Bragança Paulista, SP, v. 24, n. 4, p. 699-709, out./dez. 2019.
REINALDO, A. M. S.; SANTOS, R. L. F. Religião e transtornos mentais na perspectiva de profissionais de saúde, pacientes psiquiátricos e seus familiares. Saúde. Rio de Janeiro, v. 40, n. 110, p. 162-171, jul./set. 2016.
RODRIGUES, A. A. (ed.). Caminhos dialógicos entre psicologia, arte e educação: entrevista com Walter Melo. PsicoFAE: Plur. em S. Mental, Curitiba, v. 12, n. 1, p. 1-126, 2023.
RODRIGUES, M. A. C.; BARBOSA, F. C.; LOPES, G. C. D.; SANTACROCE, L.; LOPES, P. C. P. Intersecção entre espiritualidade e neurociência: bases biológicas das experiências transcendentais. Rev. Gest. Soc. Ambient., Miami, EUA, v. 17, n. 9, e04148, p. 1-9, 2023.
SALIMENA, A. M. O.; FERRUGINI, R. R. B.; MELO, M. C. S. C.; AMORIM, T. V. Compreensão da espiritualidade para os portadores de transtorno mental: contribuições para o cuidado de enfermagem. Rev Gaúcha Enferm. v. 37, n. 3, e51934, p. 1-7, set. 2016.
SILVA, J. B.; SILVA, L. B. Relação entre religião, espiritualidade e sentido da vida. Revista Logos & Existência, v. 3, n. 2, p. 203-215, 2014.
SILVA, T. M. M.; SANTOS, L. S. S. Religião, cognição e as ciências do cérebro: uma introdução. Sacrilegens, Juiz de Fora, v. 14, n.1, p. 90-109, jan./jun. 2017.
SIMÕES, N. D.; MARTINS, P. G.; SANTOS, R. O. P.; SANTANA, F. R.; PILGER, C. Espiritualidade e saúde: experiência de uma disciplina na graduação de enfermagem. Rev Enferm UFSM, v. 8, n. 1, p. 181-191, jan./mar. 2018.
SIQUEIRA, H. C. H.; CECAGO, D.; MEDEIROS, A. C; SAMPAIO, A. D.; RANGEL, R. F. Espiritualidade no processo saúde-doença-cuidado do usuário oncológico: olhar do enfermeiro. Revista de Enfermagem UFPE, Recife, v. 11, n. 8, p. 2996-3004, 2017.
SOUZA, D. C.; CARVALHO, P. P.; SCORSOLINI-COMIN, F. A religiosidade/ espiritualidade no contexto hospitalar: reflexões e dilemas a partir da prática profissional. Mudanças Psicologia da Saúde, São Paulo, v. 28, n. 1, p. 55-61, jan./jun. 2020.
SOUZA, J. F. Espiritualidade nas organizações: análise a partir da epistemologia axiológica de Marià Corbí. 2024. 256 f. Tese (Doutorado em Ciências da Religião) – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais PUC-MG, Belo Horizonte, 2024.
SOUZA, M. C.; ARAÚJO, T. M.; REIS JÚNIOR, W. M.; SOUZA, J. N.; VILELA, A. B. A.; FRANCO, T. B. Integralidade na atenção à saúde: um olhar da Equipe de Saúde da Família sobre a fisioterapia. O Mundo da Saúde, São Paulo, v. 36, n. 3, p. 452-460, 2012.
TAVARES, C. Q.; VALENTE, T. C. O.; CAVALCANTI, A. P. R.; CARMOS, H. O. Espiritualidade, religiosidade e saúde: velhos debates, novas perspectivas. Interações, PUC-MG, v. 11, n. 20, p. 85-97, 2016.
TEMPONE, T. R. F. A espiritualidade e os transtornos mentais. Ciências da Saúde, v. 28, n. 136, p. 1-22, jul. 2024.
TRINDADE, K. A.; ANDRADE, L. F.; SAMPAIO, P. Y. S.; MELO, M. S. S.; HERNADNES, R. S. Espiritualidade e Saúde: um olhar por meio de diferentes atores sociais. Research, Society and Development, v. 11, n. 2, e41311225874, p. 1-11, 2022.
TROFA, G. C.; GERMANI, A. C. C. G.; OLIVEIRA, J. A. C.; ELUF NETO, J. A espiritualidade/religiosidade como desafio ao cuidado integral: aspectos regulatórios na formação médica brasileira. Physis: Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 31, n. 4, e310409, p. 1-21, 2021.
VASCONCELOS, E. M. (org.). A espiritualidade no trabalho em saúde. 3. ed. São Paulo: Editora Hucitec; 2015. p. 430 p.
ZANOTELLI, M. I. G. Espiritualidade e qualidade de vida: perspectivas para o século XXI. 2016. 69 F. Dissertação (Mestrado em Ciências das Religiões) – Faculdade Unida de Vitória (UNIDA), Vitória, ES, 2016.