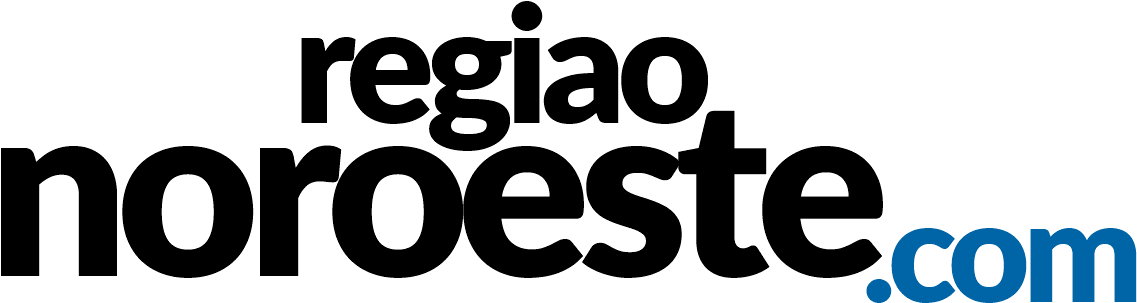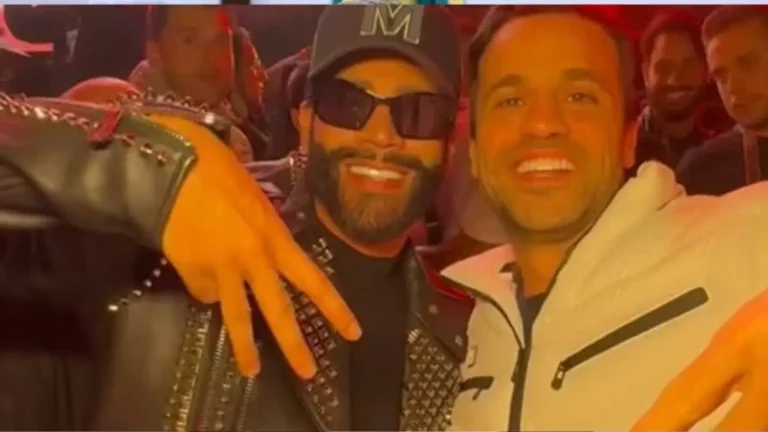A Defensoria Pública da União, por meio da Defensoria Regional de Direitos Humanos em São Paulo, entrou com uma ação civil pública contra a portaria do Ministério da Saúde que obriga os médicos a avisar polícia sobre pedidos de aborto legal em casos de estupro.



A ação pede a suspensão da portaria e que ela seja declarada ilegal.
Além de São Paulo, a ação é assinada pelas Defensorias Públicas dos estados do Paraná, Amazonas, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Distrito Federal, da Bahia, de Minas Gerais e Roraima.

Publicada no dia 27 de agosto, a portaria do Ministério da Saúde também determina a oferta para que a gestante veja imagens do feto, em ultrassonografia, e submete a vítima a um extenso questionário sobre o estupro, inclusive com questões a respeito do agressor.

Na avaliação dos defensores, as alterações feitas pelo órgão violam direitos e dificultam ainda mais o acesso ao procedimento nos casos previstos pela lei.
“As referidas inovações dessa portaria desrespeitam os direitos fundamentais à saúde, dignidade, intimidade, privacidade, confidencialidade, sigilo médico, autonomia e autodeterminação das meninas, adolescentes e mulheres, estando em desacordo também com as próprias normativas do Ministério da Saúde”, diz a ação.
Histórico
A portaria foi publicada em meio à polêmica gerada pelo caso da menina de 10 anos que engravidou depois de ser estuprada pelo tio de 33 anos, no Espírito Santo, onde o hospital negou-se a fazer o aborto legal e precisou viajar até o Recife (PE) para interromper a gestação. Junto com médicos, a vítima foi alvo de ataques de grupos religiosos e de extremistas contrários ao aborto.
Estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mostra que a gravidez é uma das consequências mais comuns do estupro no Brasil: 7,1% dos casos notificados em 2011 resultaram em gravidez da vítima.
A pesquisa mostra ainda que a proporção de vítimas que engravidam aumenta para 15% nos casos em que há penetração vaginal e a vítima tem entre 14 e 17 anos, grupo que utiliza com menos frequência métodos anticoncepcionais de uso contínuo, como a pílula.
Senado e Câmara têm projetos com o objetivo de tornar a portaria sem efeito. Parlamentares contrários à medida do Ministério da Saúde também cogitam levar ao Supremo Tribunal Federal um pedido para que a portaria seja barrada.
Conforme levantamento feito pelo G1, de janeiro a junho deste ano, 12 estados fizeram menos de dez abortos legais no período, cinco deles menos de cinco interrupções previstas em lei e dois, Amapá e Sergipe, apenas uma cada.
O que diz o governo
Em nota divulgada na semana passada, o Ministério da Saúde afirmou que as mudanças foram necessárias porque as regras vigentes estavam em desconformidade com a legislação.
Ainda segundo a pasta, um decreto da década de 1940 enquadra como contravenção a conduta de um profissional de saúde da administração pública que não comunicar crimes, como o estupro, à autoridade competente.
Tortura e violações
A psicóloga Daniela Pedroso, que há 23 anos atua com meninas e mulheres vítimas de violência sexual, avalia que a “a nova portaria degrada a autonomia de meninas e mulheres, principalmente quando oferece a elas a possibilidade de visualização do feto ou embrião por meio de ultrassonografia, o que pode ser comparado a situações de tortura”.
“Essa gestação é entendida como a concretização do estupro, sendo vista como segunda violência. Outro ponto que avilta a dignidade de meninas e mulheres e contribui para acirrar o dano psicológico é falar acerca do risco de vida conforme a idade gestacional em que as pacientes se encontram”, avalia.
“Pode-se afirmar que existem riscos que são inerentes a qualquer procedimento cirúrgico, e não exclusivos ao abortamento previsto em lei, e tal colocação parece ter como objetivo induzir a paciente a desistir do procedimento”, completa Pedroso.
Para a pesquisadora, a nova norma do Ministério da Saúde “vai contra os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, além de, novamente, tentar inviabilizar os direitos sexuais e direitos reprodutivos de nós mulheres”.
Em evento virtual realizado nesta sexta-feira (28) para debater a nova norma, o obstetra Jefferson Drezett apontou que a exigência de comunicação à polícia usa o falso argumento de proteção para, na verdade, violar direitos e duvidar da palavra da mulher que precisa passar por tal procedimento.
“Não vejo nenhum sentido nessa portaria. O que fará a polícia? Então a gente vai ligar 20 vezes por dia para a polícia, como era o caso no Pérola Byington?”, questionou Drezett.
Inconstitucional e ilegal
Na segunda-feira (31), a Comissão Especial de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher do Colégio Nacional de Defensores Públicos (Condege) enviou uma nota técnica ao Congresso Nacional e ao Ministério da Saúde pedindo a anulação da nova norma.
Na nota, os defensores argumentam que a nova portaria constitui uma “afronta ao direito ao sigilo entre o profissional de saúde e suas pacientes, violando, em consequência, os direitos fundamentais à privacidade, confidencialidade e intimidade”.
“Concluímos pela inconstitucionalidade, inconvencionalidade e ilegalidade da portaria e, consequentemente, pela sua não aplicabilidade diante da nulidade absoluta, recomendando a sua imediata revogação”, diz a nota do Condege.
De acordo com a defensora Paula Machado, coordenadora do Núcleo Especializado de Promoção dos Direitos da Mulher (NUDEM) da Defensoria Pública de São Paulo, a normativa, além de inconstitucional e ilegal, usa de forma enviesada um documento da Organização Mundial de Saúde (OMS) que trata da questão sobre o risco à vida da mulher.
Entretanto, o documento da OMS aponta que risco de vida a partir de um abortamento induzido em condições seguras “é menor do que tomar uma injeção de penicilina ou levar uma gravidez a termo.”
“A grande maioria das mulheres que têm um abortamento induzido adequadamente não sofrerá nenhum tipo de sequelas a longo prazo para sua saúde geral e reprodutiva (113-115). Em tempos modernos, o risco de vida a partir de um abortamento induzido em condições seguras é menor do que tomar uma injeção de penicilina (116) ou levar uma gravidez a termo (1)”, diz o documento da OMS.
“A informação [portaria] foi dada com um viés exatamente para desmotivar que se faça”, alerta Paula.
“Fica um questionamento do porquê esse detalhamento de dizer que a pessoa corre risco de vida? Na verdade, a não realização da intervenção é que levará o risco a meninas, adolescentes e mulheres”, aponta Paula.
A defensora ainda destaca a necessidade de criação de mecanismos que possam garantir atendimento humanizado e acesso ao que está previsto em lei.
“Essas normativas devem sempre caminhar no sentido de facilitar o acesso a esse direito, que conforme estudos e pesquisas, nós vemos hoje que apesar de ser um direito previsto no Código Penal de 1940, é um direito que não é garantido de forma democrática, de forma igualitária a todas as meninas, adolescentes e mulheres”, diz
“Por isso, as normativas devem caminhar no sentido de ampliar o acesso, ampliar o acesso inclusive à informação dos serviços de referência, de quais são as hipóteses de interrupção legal, e não trazendo requisitos que não estão previstos na lei ou fases e procedimentos que tornem esse procedimento que é de extrema vulnerabilidade para essa mulher”, completa.
O que a normativa faz, porém, é justamente o contrário: distorce uma questão de saúde pública e distancia ainda mais as mulheres ao tornar o processo policialesco, de investigação.
“Sob o risco ainda de muitas meninas, adolescentes e mulheres desistirem de procurar a saúde por conta dessas novas formalidades e também muitas vidas de mulheres serem perdidas porque a saúde deixará, então, de ser um espaço de confiança para esse público”, completa Paula Machado.
SUS realiza procedimentos pós-aborto incompleto
No primeiro semestre de 2020, o número de mulheres atendidas em todo o país pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em razão de abortos malsucedidos – tenham sido provocados ou espontâneos – foi 79 vezes maior que o de interrupções de gravidez previstas pela lei, como o G1 revelou.
De janeiro a junho, o SUS fez 1.024 abortos legais em todo o Brasil. No mesmo período, foram 80.948 curetagens e aspirações, processos necessários para limpeza do útero após um aborto incompleto. Esses dois procedimentos são mais frequentes quando a interrupção da gravidez é provocada, ou seja: a necessidade é menor no caso de abortos espontâneos.
Para especialistas em saúde da mulher ouvidos pelo G1, essa discrepância também indica que as mulheres não têm acesso adequado ao aborto previsto na legislação e que o próprio sistema hospitalar arca com os custos de procedimentos pós-abortos clandestinos.